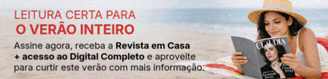As trajetórias de luta e sobrevivência de pessoas LGBTs
17 de maio é o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia - e a luta contra a discriminação segue sendo importante em pleno 2020

No dia 17 de maio de 1990, Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Por conta disso, a data passou a ser lembrada como o Dia Internacional contra a Homofobia. Hoje a efeméride é mais ampla e é amplamente reconhecida como Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.
De lá para cá, trinta anos se passaram e a sociedade evoluiu em relação à comunidade LGBT. De lá para cá, o casamento homoafetivo passou a ser reconhecido no Brasil e o direito ao nome social é uma realidade para as pessoas trans. Mais recentemente, o STF decidiu criminalizar a LGBTfobia, aos mesmos moldes dos crimes de racismo. Mesmo assim, a discriminação ainda é muito presente na vida das pessoas LGBT.
Por que a luta pela ampla aceitação segue sendo importante? E o que ainda é preciso mudar na sociedade? Para responder a essas perguntas, CLAUDIA ouviu uma série de pessoas que se dedicam a dar visibilidade à causa LGBT e que trabalham no combate à discriminação.
Poder ser mulher negra, ameríndia e transgênera ou a morte
Nascida no ano de 1970, a publicitária Neon Cunha sentiu a dureza de crescer na ditadura e na pobreza. Para ela, essas situações foram ressignificadas e transformadas em combustível para luta que travaria nas próximas décadas. “Vi o Brasil se democratizar, com muitas aspas. Disse à minha mãe com dois anos e meio que era uma menina. Mas outro marco identitário é o racismo. Cheguei a escutar de crianças que não andariam comigo porque tenho cor de sujeira, o que fez com que me identificasse sempre como negra de pele clara, e não parda”, conta a terceira filha dos dez que seus pais tiveram sobre a interseccionalidade que vive.
A identificação de gênero foi motivo de muitas brigas com seu pai e de cicatrizes curadas, mas não esquecidas. “A misoginia antecede a LGBTfobia, porque o princípio do ódio é esse. Quando a mulher que pauta, por exemplo, quem apanha na rua é o homem gay que tem algum traço de feminilidade. Conter o feminino parece que é qualificar o masculino”, explica.

Além da dificuldade em casa, na escola, a transfobia também lhe cercava. “Embora me reconheça menina muito cedo, tem uma frase que diz muito sobre quem eu era na escola: Joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, maldita Geni. E, no final, as travestis que pagaram o preço da ditadura, criticou. Mesmo assim, Neon conseguiu construir uma base e ter apoio de amigos para concluir o nível superior, prestar concurso e se tornar funcionária pública de colaboradora de grandes estilistas, como Isaac Silva.
Em 2016, o peso de carregar um nome e identidade de gênero que não condiziam com quem era saturou. “Elaborei um projeto político, pois não queria ser diagnosticada com disforia de gênero [não identificação da genitália que nasceu], como se tivesse uma patologia”, revela. Na época, Neon pediu à Justiça morte assistida caso não tivesse seu direito garantido. “Me submeti a um judiciário que pedia que eu comprovasse que existia, tinha que mandar carta de pessoas dizendo que me reconheciam pelo meu nome e gênero. O que eu queria com o processo era oferecer às pessoas o que nunca tive: a autonomia de ser quem se é”, desabafa a funcionária pública.
Hoje, qualquer pessoa pode chegar no cartório e falar: “Eu me reconheço neste nome, não são os outros que me classificam e dão um destino. Ter um nome é ter um destino, isso é muito importante. A liberdade de decidir quem você é um muito importante.
Neon Cunha
Entre os acontecimentos que marcaram sua caminhada em busca de reconhecimento e para poder existir, a publicitária destaca o encontro com uma escritora de Recife. “Fabiana Moraes produziu uma das obras que eu mais gosto sobre pessoas não cis generas, o livro Nascimento de Joice. Mesmo não sendo uma pessoa trans, ela usou do seu privilégio cis para dar visibilidade e dignidade a nós. Ou seja, uma pessoa que entendeu de fato o que é lugar de fala. Algumas pessoas vem o ativismo como um lugar de dor, sendo que também é uma celebração ordinária da vida”, considera.
Em 2018, a Casa LGBTI+ “Neon Cunha” foi inaugurada para amparar pessoas LGBTQIA+, oferecendo orientação de saúde, jurídica, educacional e assistencial. Para ajudar a instituição sem fins lucrativos, é só acessar a página no Facebook.
Bruna Capistrano e seu processo de autoconhecimento e acolhimento de lésbicas no Carnaval
Na infância de Bruna Capistrano, 39 anos, no Rio de Janeiro, o peso do patriarcado, apresentado pelo seu pai, se fez presente e causou incômodo. “Meu pai é marítimo, vivia viajando, e minha mãe, dona de casa. Fui praticamente criada por ela, com os pitacos do meu pai pelo telefone. Quando eu era mais nova, tinha uma relação difícil com ele”, conta a jornalista que via sua rotina mudar a cada retorno do pai para casa. Mas, ao se tornar a adulta, a percepção sobre dinâmica da sua família, principalmente dele com sua mãe mudou. “Eles estão juntos há 43 anos, se divertindo dentro do que eles criaram para si. Depois que cresci entendi melhor esses códigos criados por eles para sobreviverem. Todo casal tem seu código, né?”, aponta.
E a mudança na forma de enxergar o que estava ao seu redor também aconteceu internamente. “Essas coisas [orientação sexual] muita gente só percebe quando cresce, né? E eu fui uma delas. Me lembro do meu primeiro namorado, que era completamente apaixonada, mas ele não gostava que eu jogasse futebol. Com ele também perdi a minha virgindade, e tive uma mistura de sensações entre me despedir daquela Bruna masculinizada e entrar na adolescência, em que o valorizado era a mulher feminina, de bolsa e sapato de salto. Mas eu não fui nem uma, nem outra”, lembra.

Perto dos 30 anos, Bruna se descobriu como mulher. “Até então, ainda estava entendendo à minha maneira de ser sapatão. Passei pela fase da passiva e da ativa, da mulher sapatão mulherzinha e da mulher sapatão machinha. E hoje vejo que nada disso faz sentido, era tudo a construção de uma representação a partir do olhar de uma sociedade machista e patriarcal”, explica.
Em 2007, a ideia era se divertir no Carnaval com as amigas, sem cara enchendo o saco e assediando por perto, mas que no fim se tornou um marco para a representatividade e proteção lésbica na folia. “Quando tive a ideia de fazer o Toco-Xona, chamei a Michele e começamos a reunir amigas e amigos que faziam parte do nosso círculo de amor e respeito. Não tínhamos nunca a pretensão de criar um bloco grande, mas não tinha muitos lugares em que sapatão, gay, trans pudessem curtir o Carnaval livre. Então, as pessoas foram chegando e fazendo o bloco crescer como é hoje”.
Saímos do armário, da cozinha, da senzala, mas querem nos colocar de volta lá dentro e não vão conseguir
Bruna Capistrano
Sobre os avanços e retrocessos, Bruna reflete: ”Vivemos num mundo em que a intolerância, antigamente abafada, está sendo ecoada a plenos pulmões com orgulho. O conservadorismo de não querer aceitar o diferente de você está muito perigoso, assim como a intolerância religiosa defendida por fanáticos cristãos não só nas ruas mas principalmente na política”. Lamentando o falecimento de Demetrio Campos, nesta data, um homem negro trans que foi vítima do racismo, da transfobia, do machismo, da misoginia, ela completa que “ainda temos muito o que falar sobre as mulheres negras lésbicas, sobre as sapatrans, as pessoas trans negras e brancas e pobres, o feminismo que invisibiliza a mulher negra e suas questões… O foguete já decolou e não anda para trás! ”.
Cinthia Gomes, a interseccionalidade e o ser aliada
“Convergir essas duas lutas – a racial e a LGBT – foi inevitável, a partir do momento em que percebi que a exclusão e o risco eminente de morrer se acentuam quando acumulamos estigmas em nossos corpos”, notou a assessora parlamentar Cinthia Gomes, 39 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje vive em São Paulo.
O processo de identificação com a bissexualidade muitas vezes é visto como confusão principalmente para quem está fora do movimento. “As pessoas bissexuais são invisibilizadas e rotuladas como se não soubessem o que querem. E isso tem um impacto também nas nossas relações afetivas e sociais, já que há um uma leitura de que somos ‘promíscuas’, um estigma muito forte.

Mesmo se identificando como uma mulher negra, cis e bissexual, dentro do movimento LGBT+, Cinthia encontrou uma forte conexão como aliada das causas de travestis e trans. “A travesti morre espancada na rua, depois de ter sido expulsa de casa, sem concluir os estudos nem acessar o mercado de trabalho e só encontrar alternativa na prostituição. Em 82% dos casos, isso acontece com uma travesti negra”, aponta.
Para Cinthia, a interseccionalidade das questões LGBT+ e raciais é mais uma camada no processo de silenciamento das pessoas que vivem nos pontos em que as duas questões convergem. ”As pautas de maior visibilidade são as reivindicações de gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans brancas. São aquelas sobre direitos civis, como casamento ou direito sobre a herança. Essas reivindicações – muitas delas, já conquistadas – embora pareçam universais, para as pessoas LGBTs negras são privilégios que só iremos acessar se conseguirmos permanecer vivas”, revela.
Iran Giusti e o acolhimento das pessoas LGBT que precisam de um lar
Em 2015, Iran Giusti resolveu colocar o sofá de seu apartamento à disposição de alguma pessoa LGBT que tivesse sido expulsa de casa. O ato de generosidade se transformou projeto social e, em 2017, ele abriu a Casa 1, lar de acolhimento para LGBTs que precisam de um lar. Hoje, a casa conta com o centro de acolhida, um centro cultural, uma clínica social e também distribui cestas básicas para a população carente – com foco em pessoas trans.
Iran conta que, ao assumir-se homossexual, naturalmente passou a entender a importância da causa LGBT. Dentre os fatos marcantes que o fizeram “despertar” para a causa, ele cita as dificuldades referentes ao trabalho de conclusão do curso de relações públicas – que abordava o projeto Mix Brasil. “Tive que brigar muito dentro do espaço acadêmico para fazer rolar. Os professores reclamavam da falta de fontes, por exemplo, algo que é um problema até hoje. Eles custaram a aceitar entrevistas e o conhecimento vindo da vivência das pessoas LGBT para o trabalho. Além disso, quando resolvemos, eu e a minha parceira de trabalho, convidar uma drag para ser recepcionista no dia da banca, a faculdade proibiu e, na negociação, a artista teve que se montar dentro de um banheiro sem nenhuma estrutura”, relembra.

Ao falar sobre as conquistas da comunidade LGBT nos últimos 30 anos, Iran se classifica como pessimista. “Nossos avanços têm acontecido em determinadas frentes apenas. Obviamente, para homens gays cisgêneros, passos foram dados. Mas quando falamos sobre mulheres lésbicas e bissexuais – tanto cis quanto trans – ainda estamos lá atrás”.
Ele reconhece a importância dos direitos adquiridos, mas aponta um detalhe que o incomoda. “Os avanços se deram no campo do judiciário. O legislativo, que é a representação do povo, nunca chegou perto do debate e da conquista destes direitos. Então o caminho ainda é longo, o debate social tem que existir mais e mais e mais para gente ter mudança estrutural mesmo”. Para Iran, não basta mudar as leis e criar mecanismos de assistência à população LGBT – por mais que reconheça a importância dessas medidas. “Se a gente não conseguir efetivamente ter uma educação que ensine a pensar e a respeitar vamos continuar com essa máquina de criar mentes LGBTfobicas”, resume.
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO