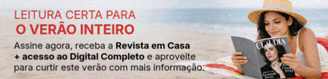A luta ancestral das mães de santo: esperança e resistência
Além de guiar quem frequenta os terreiros e ajudar a estabelecer contato elevado com orixás, as líderes do candomblé perpetuam a fé afro-brasileira

Esperança e resistência: talvez essas sejam as palavras que melhor definem o legado do candomblé e outras religiões de matriz africana no Brasil. Com origens nas senzalas, a doutrina supria tanto a necessidade dos escravizados de se reaproximarem de uma cultura que lhes fora roubada, quanto de recuperar a própria humanidade em meio aos terrores da escravidão. Contudo, manter essa religiosidade não era fácil: as cerimônias eram feitas em sigilo absoluto. Àqueles que fossem pegos cultuando os orixás poderiam enfrentar chibatadas, mutilações e até mesmo a morte.
Antes de celebrar o “ainda bem que tudo isso ficou no passado”, saiba que a realidade de hoje (2022, ok?), está longe de ser respeitosa e inclusiva. Prova disso é o aumento de 141% das denúncias de casos de intolerância religiosa registrados no Brasil entre 2020 e 2021. Os dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH) mostram também a importância do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Comemorada há 15 anos no dia 21 de janeiro, a data é uma homenagem à Mãe Gilda, fundadora do terreiro de candomblé Ilê Asé Abassá. Após ser acusada de charlatanismo pela mídia, a ialorixá sofreu agressões físicas e verbais que a levaram a óbito aos 65 anos, vítima de um infarto fulminante.

Apesar da falta de informação que levam ao ódio e às perseguições, o candomblé segue cada dia mais vivo graças à atuação das Mães de Santo ou Ialorixás. Dotadas de uma enorme sabedoria, essas mulheres coordenam comunidades, protegem os terreiros, trazem suporte às populações socialmente desfavorecidas e dedicam uma vida inteira ao bem-estar físico e emocional de quem frequenta os barracões (como são conhecidos os templos desta religião). A seguir, contamos a história de três delas.
Mãe Paula de Yansã
Ela está à frente do Axé Ilê Obá, o primeiro terreiro de candomblé tombado na cidade de São Paulo. Fundado durante os anos 1950 pelo Pai Caio de Xangô e, posteriormente, comandado por Mãe Sylvia de Oxalá, o barracão possui um inspirador histórico de resistência.

Mas tão bela quanto a história do terreiro é a jornada de Mãe Paula, filha de Sylvia: “Além da minha mãe não poder ter filhos, ela já havia passado por muitas situações desagradáveis envolvendo preconceitos e ataques. Por isso, decidiu adotar uma criança a fim de prepará-la para dar continuidade ao legado do Axé Ilê Obá. Eu fui adotada primeiro e, três anos depois, ela adotou o meu irmão”, explica.
Com um ano e três meses, Paula foi iniciada no candomblé, passando por todos os fundamentos e aprendizados da religião. E, em 2008, com a permissão dos oráculos e a orientação dos orixás, Sylvia a consagrou oficialmente como herdeira do barracão.

“Eu lembro que, de primeira, não aceitei muito bem isso. Depois, me acalmei e pensei: ‘Ah, para ela não ficar chateada, melhor eu falar que sou a herdeira mesmo’”, conta. Em 2014, sua mãe veio a falecer. “Quando eu a vi estirada num caixão, lembrei de tudo o que ela e meu tio avô, o Pai Caio, precisaram enfrentar para estarmos aqui. Parei de pensar em mim e comecei a refletir sobre a ancestralidade. No fim, eu devo tudo a eles, incluindo a minha existência. Assumi este papel humildemente, aprendendo com os mais velhos e os mais novos. Essa troca magnífica foi acontecendo e, hoje, estamos indo para o oitavo ano da casa”, diz.
Mãe Paula explica que o candomblé nada mais é do que pureza e amor. “O preconceito vem de quem não nos conhece. Quando você vai numa festa e presencia a cromoterapia dos orixás, das cores, dos fios, das roupas, a força dos tambores, aquilo te revigora. O julgamento surge apenas do não conhecimento”, conclui.



Mãe Claudia de Oyá
“Eu lembro de passar pelas bancas, olhar para a CLAUDIA e dizer: ‘Olha, é a minha revista’. Fazer essa entrevista é muito forte. Eu sou uma mulher negra, periférica e ialorixá. As portas não se abrem para nós com tanta facilidade. Então, quando chegamos num lugar como este, temos que festejar”, declara Mãe Claudia de Oyá logo no início desta entrevista.

A ialorixá explica que a sua jornada nas religiões afro-brasileiras começou há cinquenta anos. Desde a adolescência, ela já ajudava a mãe em atendimentos espirituais, que envolviam curas e benzimentos. Porém, somente aos 28 anos que ela se iniciou na doutrina. “Minha filha teve um problema de saúde gravíssimo [Síndrome de Stevens-Johnson] e precisou ficar 18 dias internada após perder 70% de sua pele. Na época, ela tinha apenas dois anos e meio. Prometi que, se eu tirasse minha filha com vida daquele hospital, eu iniciaria nós duas no candomblé”, conta emocionada. “Ela saiu sem sequelas e eu fui cumprir a minha promessa.”
A cerimônia de iniciação foi conduzida por um babalorixá em São Paulo, falecido poucos anos depois. “Quando ele morreu, precisei me fortalecer. Não tinha mais colo, eu tinha que ser o colo para todos – a minha missão foi se dando, assim, naturalmente.” Há 15 anos, Mãe Claudia começou a iniciar seus filhos e formar a própria casa de axé. “Isso foi crescendo e, hoje, temos essa comunidade que é o Ilê Asé Ojú, repleto de alegria e união”, diz.
O grande desafio fica em equilibrar a vida pessoal com a religiosa. “Minhas filhas são mulheres maravilhosas, elas cresceram nesse contexto entendendo que a mãe é delas e de mais inúmeras pessoas. Não é uma realidade fácil para nenhuma de nós”, conta. “Às vezes, também posso estar chateada com algo pessoal, mas quando abro um jogo de búzios ou aparece um filho em minha casa, eu coloco as questões pessoais em outro compartimento e me transformo naquela mãe que ouve, aconselha e dá a palavra de força e sabedoria”, esclarece.

Essa visão de mundo, segundo Claudia, é vista com humor pela filha Carol de Oxóssi. “Ela me acha romântica e até exagerada”, brinca. Mas, no fim das contas, isso é o que realmente traz forças para a mãe de santo. “Me sinto amada pela minha família, pela minha mãe carnal e pela minha companheira.”
Ela finaliza dizendo que, diferente do que muitos pensam, a Mãe de Santo não é uma mulher que não faz nada. Muito pelo contrário: toda a comunidade gira em torno delas. “Na década de 30, quando a polícia interrompia as nossas cerimônias e nos levava para a delegacia, tínhamos que ter ialorixás corajosas o suficiente para colocar o candomblé na sala de casa. Isso sempre foi e sempre será assim.”
Iyálorisá Omilade (Oloroke Omibaina)
Antes de ser Omilade – ou Yemojazz, nome adotado pela sacerdotisa em suas redes sociais –, a ialorixá nasceu como Janaína Teodoro. “Minha jornada se iniciou no hip hop durante os anos 90. Foi nele que me constituí como mulher preta e entendi sobre a negritude. Em 1999, cheguei a dançar com o James Brown e ganhei o apelido de Nina Brown. ‘Que Nina? A do Brown!’, me diziam as pessoas”, relembra.

Contudo, com a chegada da internet no Brasil, ela entendeu que James Brown era um homem machista e agressor. “Hoje, eu compreendo a arte dele de outra forma. Não negativamente, pois sei que quem não tem amor não consegue dar amor. Mesmo assim, pedi para as pessoas passarem a me chamar apenas de Janaína do Candomblé”, esclarece.
A recepção, porém, não foi tão positiva quanto ela imaginava que poderia ser: “Eu ia cantar e as pessoas viravam de costas. Aquilo me feria”. Em busca de um lugar onde a cultura também abraçasse a sua religiosidade, ela encontrou o parceiro Dentinho do Oxóssi. “Ele me levou para o samba. Lá, você canta sobre Exú e Oxalá, e está tudo bem. Fui muito feliz neste mundo”, conta.


Anos depois, quando tudo parecia estar sob controle, Omilade enfrentou uma severa depressão pós-parto por sete anos. “Quem me salvou foi Roger Cipó, um grande amigo. Ele me buscou em casa para combater o racismo religioso. Disse que a comunidade precisava da minha força e nós voltamos a militar juntos. Em 2018, colocamos 10 mil pessoas na Avenida Paulista.”
Após esse período, Yemojazz foi consagrada novamente, assumindo de vez o sacerdócio. Atualmente, ela cursa direito para conseguir eliminar as raízes da intolerância: “Lutamos muito contra o racismo, mas a gente sabe que a podridão está debaixo dos panos. O direito é um caminho para levantar esses panos. É a minha responsabilidade perpetuar e manter tanto o meu axé quanto o da minha comunidade”, conclui.