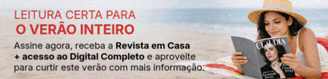O que as jovens tem a nos ensinar sobre feminismo
As manifestações de rua e os debates na internet têm funcionado como um treino para muitas meninas. Elas tomaram a dianteira do movimento, que agora amplia suas bandeiras para além da questão de gênero

Quem disse que as batalhas estão ganhas e que o feminismo envelheceu? Ele continua tão necessário quanto nos anos 1960 e 70, quando se popularizou. Mas mudou de cara e intensidade ao se alastrar por blogs, redes sociais, passeatas e ocupações, entre outras ações coletivas. E nele não figuram apenas nomes icônicos, como no passado. Líderes cada vez mais jovens, de diferentes setores e tendências, modulam um discurso e vão para a prática exercitar a cidadania – já com resultados importantes. Um estudo realizado em 113 nações permite enxergar o envolvimento das mulheres com causas específicas e outras comuns a todas. Intitulado Big Data and Gender Inclusion, ele analisou a participação feminina na Change.org, plataforma de abaixo-assinados presente em 196 países, que tem 100 milhões de usuários. Concluiu que no Brasil 50% das mulheres são engajadas (mesma porcentagem média do mundo).
As brasileiras aprenderam a não esperar que o governo faça as transformações de que precisamos e estão mudando o jeito de viver a política, levando mais mulheres a refletir e criar consciência. Elas debatem caminhos para a maternidade, o trabalho, a saúde. Mostram como deve ser a paridade de direitos e de condições entre negras e brancas e de ambas em relação ao homem. Defendem uma sexualidade mais fluida. Quer dizer, o feminismo tem se ampliado para uma luta transversal, que prevê uma sociedade plural e pacífica, como se pode notar nas experiências das cinco mulheres que CLAUDIA ouviu.

“Feminismo é se envolver com todas as discussões importantes”
“Aprendi cedo a correr atrás do que quero. Mas só entrei na militância ao tomar por 42 dias a Escola Estadual Diadema, onde estudo desde os 5 anos. O período noturno seria fechado pelo governo de São Paulo, assim como outras 94 escolas, o que obrigaria 311 mil estudantes a mudar de colégio. Quando soubemos da notícia, minha amiga Fernanda Freitas disse: ‘Temos que fazer algo para impedir isso’. Convocamos alunos para dormir ali e não sair até que o projeto morresse. Não havia como negociar. Aquele era o único jeito de mostrar que a escola era nossa e ninguém a tomaria de nós. Em 24 horas, estudantes de outros lugares passaram a nos seguir. A ocupação atingiu mais de 250 instituições. Distribuímos as funções entre equipes de cozinha, limpeza, relações com a mídia, comunicação com as famílias e segurança, que impedia que funcionários e estranhos entrassem, quebrassem coisas e jogassem a culpa em nós. Aprendemos a liderar. Não tinha essa de mulher não faz isso ou aquilo. Dividimos tarefas e poder. Enquanto estávamos resistindo, discutíamos problemas de São Paulo, do país, das mulheres. O governo voltou atrás, desistiu do projeto maluco. Saí outra pessoa. Fui convidada, com alguns secundaristas, a falar no Festival de Direitos Humanos, apoiado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Feminismo é se envolver com todas as discussões importantes”
Rafaela Boani, 16 anos, iniciou o protesto contra o fechamento de escolas paulistas

A ilustradora Ale Kalko traduz o discurso das garotas que vêm ganhando as redes.

“É nossa obrigação desconstruir conceitos arraigados”
“Entrei na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas como cotista. Sou a única negra da turma e já denunciei o racismo e o machismo ali. Entre outras coisas, critiquei o fato de um anúncio na faculdade mencionar vaga de estágio só para homens. Isso incomoda. Chegaram a escrever no meu armário: ‘Não ligamos para as bostas que você posta no Facebook’. Leio muito desde criança e aos 18 anos comecei a seguir blogs feministas – vários de negras. Aprendi bastante e criei minha identidade ali. Publiquei textos em seis deles. Hoje, escrevo para o HuffPost e outros portais. Os negros estão no digital, e não nas mídias tradicionais, que ainda acham que não temos capacidade intelectual suficiente ou opinião para dar. Uso muito as redes sociais, onde a repercussão é rápida. Em 2015, convoquei um ato contra a peça A Mulher do Trem, no Itaú Cultural, em que atores pintavam o rosto de preto para interpretar uma doméstica. A apresentação foi cancelada e no horário houve um debate, do qual participei. É nossa obrigação desconstruir conceitos arraigados. O meu texto Tire o Racismo do Seu Vocabulário é para isso. Ele foi visualizado por 200 mil pessoas em um dia. Uma empresa copiou e passou para os funcionários. Nele, explico 13 expressões que inferiorizam a negra. Por exemplo: chamá-la de morena ou mulata para embranquecê-la é racismo. Ou hipersexualizá-la e fazê-la exótica, dizendo: ‘Mulata de traços finos, tipo exportação’. ‘Não sou tuas negas’ deixa explícito que com as negras pode tudo, inclusive assediar e maltratar. Há ainda o uso de ‘inveja branca’, quando ela é boa; ‘mercado negro’ para traduzir ilegalidade; ‘denegrir’, que é tornar negro, aplicado no sentido de difamar. As feministas têm muita coisa para mudar.“
Stephanie Ribeiro, 22 anos, ativista, estudante de arquitetura e urbanismo

“O sujeito do feminismo são as pessoas que sofrem com a misoginia”
“Fui crente até os 17 anos, em uma família evangélica havia várias gerações. O que mais me agredia era o controle do corpo. Usava o cabelo e a saia abaixo dos joelhos em sinal de submissão. As meninas se casam cedo com homens mais velhos e várias relatam estupro marital – o sexo por obrigação, normalizado pela igreja. Eu achava que era assexual e só me entendi lésbica aos 18. Temi a reação em casa. Quando contei, meu pai disse: ‘Se o céu da igreja não permitir que você esteja com a gente, então a gente não quer estar nele’. E saíram de lá. Minha mãe é índia guarani, foi criança de rua; eu sou mestiça. Por isso, acredito que não basta defender a mulher. Minha linha de feminismo é interseccional: envolve raça, classe e gênero, se expande em várias dimensões humanas. Pauto minha escrita, no Facebook e em artigos para revistas científicas, na política do afeto, da americana Bell Hooks. A empatia e a identificação são o motor do amor. Usarei o conceito na pesquisa de mestrado que desenvolvo na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o sofrimento psíquico de meninas na violência doméstica. É grande a lesbofobia familiar, o que as leva a cometer o suicídio com mais frequência que os homens gays. O desafio do feminismo é juntar e dividir. Há lutas específicas para gordas, mulheres com deficiência e discriminadas no trabalho. A ação pode ser segmentada, mas todas integramos o grupo impactado pela desigualdade. O sujeito do feminismo são as pessoas que sofrem com a misoginia. Não existe mulher machista, porque ela nunca se beneficia do machismo. Pesquisei e escrevi em um livro do Conselho Federal de Psicologia que 95% dos psicólogos brasileiros são mulheres, mas as chefias de departamento da graduação e da pós pertencem a homens. As opressões diferem. O que nos une é o fato de não estarmos na posição hegemônica.”
Geni Núñez, 24 anos, psicóloga e ativista

“O feminismo nunca foi tão necessário”
“No ano passado, eu me vesti de Frida Kahlo para protestar contra Eduardo Cunha (presidente da Câmara e autor do projeto que aumenta a criminalização do aborto e dificulta o acesso à pílula do dia seguinte). Ela é um símbolo de liberdade, o que ajudou a atrair meninas ainda sem opinião formada. Pusemos mais de 20 mil mulheres nas ruas nos atos de São Paulo. Gostei tanto que assumi o visual: ando sempre de flores na cabeça, saia e xales coloridos. O feminismo nunca foi tão necessário. Há um ano, fundei um coletivo na minha universidade. É um espaço de acolhimento. Alunas têm vindo se queixar de abuso sexual de professores. Já afastamos um da sala de aula – ele ficou suspenso, depois voltou a lecionar, mas só pela internet. Queremos a demissão dele e de outros que praticam também assédio moral. Ouvimos ainda meninas que abortam e enfrentam as dificuldades que isso representa. Eu sofri ao abortar. Foi uma decisão dura, mesmo debatendo o tema à exaustão, defendendo o direito ao corpo e à opção de não ser mãe ou de escolher quando se quer engravidar. Mexeu com a minha cabeça. Além disso, tive que comprar o remédio de forma quase marginal. A lei que pune as mulheres precisa cair. Também deve acabar essa história de mulher ganhar salário menor. Há luta para todo tipo de feminismo e muitas vertentes e ideologias envolvidas. Pratico um feminismo que vai além da mulher, quer uma sociedade mais justa. Minha mãe saiu de casa porque meu pai era violento. E, para sustentar minha irmã e a mim, ela fazia até serviços pesados. Com Prouni, se formou chef de cozinha. Quero um país mais igual para todas. Entendo as líderes que são radicais, às vezes até rancorosas. Elas fazem um papel muito importante, onde é preciso ser ainda mais intransigente.”
Nathália Keron, 20 anos, líder de um coletivo de estudantes de direito

“O feminismo não chegava à minha geração”
“Sempre me pergunto: como posso mudar as coisas? Antes de criar com amigos o Canal das Bee, no YouTube, há dois anos, não achava conteúdo de lazer e informação para jovens homo, bi e transexuais, os mais vulneráveis. Uma lésbica, como eu, não tinha com quem contar. O feminismo não chegava à minha geração. Pesquisando para fazer o canal, vi que não dava para abordar sexualidade e gênero sem falar das feministas. Assumidamente, me tornei uma diante da câmera. Meu trabalho é fácil, muitas feministas passaram perrengues, lutaram para eu ser quem sou. Eu não tinha noção de que minha existência era política. Se me xingavam nas redes sociais, eu ficava triste. Mas andar na rua é um ato político. Eu me amo, tenho consciência do que é ser mulher, lésbica, gorda e feliz no século 21. A mulher era objeto de desejo do homem. Sair desse papel passivo e desejar, ainda mais outra mulher, é transgressor. Continuo a ação das velhas feministas falando com o humor que os teens entendem. O canal atingiu 18 milhões de visualizações e ganhou o prêmio no YouPIX Content Talent Show. Sei da responsabilidade que essa liderança me trouxe. Não falo mais besteiras: isso vai impactar muita gente. Não quero dar mau exemplo, é uma questão de cidadania. Das meninas que me veem, sairão parlamentares, juízas e governadoras. Faço palestras até em colégio católico. Em uma plateia, havia freiras, e elas me agradeceram. Falo de bullying, provoco os jovens, chamo para o palco os valentões que zoam os colegas que têm comportamento sexual diferente. Penso também nos desconectados, sem acesso a nada, no interior do Norte ou do Nordeste. Estou escrevendo o roteiro de um vídeo para ser levado a eles por coletivos que incentivamos nossos seguidores a criar. A mensagem se multiplicará em lugares que a gente nem imagina.”
Jessica Tauane, 24 anos, youtuber
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO