Quando Iracema Lima Aïnouz morreu, em 2015, o cearense Karim Aïnouz escreveu uma carta relembrando detalhes da vida de sua mãe. Esse memorial quase virou matéria-prima de filme. Não aconteceu porque o diretor encontrou no livro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de Martha Batalha, uma forma de compartilhar a carta sem precisar, de fato, fazê-lo. “Foi amor à primeira vista. A obra tem muitas coincidências com a minha vida e das mulheres da minha família”, conta.
A trama trata da separação entre duas irmãs, interpretadas por Carol Duarte e Julia Stockler. Apaixonada por um marinheiro grego, Guida (Julia) embarca rumo à Europa deixando apenas um bilhete de despedida para a família. Meses depois, ela retorna ao Brasil solteira e grávida, mas os pais, conservadores, não aceitam recebê-la de volta em casa. Guida então parte com algumas mudas de roupa e pouco dinheiro. Eurídice (Carol), já casada, continua amargando a saudade da irmã sem saber que ela está novamente no Rio de Janeiro. O desencontro cria um buraco no peito de ambas.
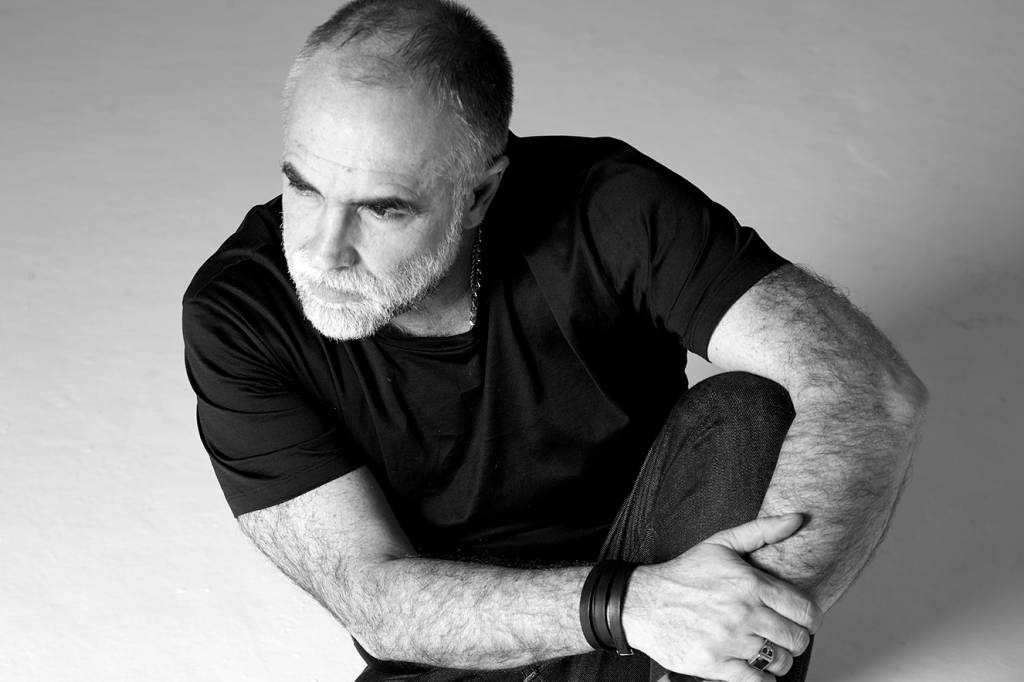
A partir daí, a vida delas segue em meio à sociedade machista dos anos 1950. Eurídice permanece incólume no relacionamento mediano com Antenor (Gregório Duvivier), apegada à utopia de seguir carreira como pianista no conservatório de Viena, na Áustria. Do outro lado da cidade, Guida dá à luz desamparada e precisa juntar os cacos para se reerguer. As duas sofrem todo tipo de abuso naturalizado pelas estruturas sociais e familiares, uma sintonia triste. “Era importante falar do patriarcado condensado não em pessoas, mas em um grande sistema. Ninguém nasce vilão nem mau. São atores de papéis sociais do momento em que vivem. Há uma autoridade outorgada a esses homens por esse sistema opressor”, reflete.
Guida encontra apoio fora do seio familiar. Cria laços com Filomena (Bárbara Santos), que mantém uma creche em um bairro periférico para que as mães, operárias, possam trabalhar enquanto alguém olha seus filhos. É só nesse espaço que ela recebe carinho e conquista sua liberdade. “Essa passagem serve de alerta ao Brasil atual, que quer o retorno da família tradicional, de sangue, nuclear, a qualquer custo. Guida só consegue construir uma dinâmica de afeto distante dessa realidade. É bonito quando a gente vê que, anos depois, essa creche se torna uma grande escola, enquanto a casa de Eurídice, que manteve-se no padrão normativo, continua pequena”, argumenta.

Karim reconhece um tanto da própria vida nessa jornada. Sua mãe conheceu o parceiro enquanto estudava nos Estados Unidos. Eles se separaram e ela voltou para Fortaleza grávida de Karim. Pai e filho só se conheceram anos depois, na França. “Fui criado por ela, que era cientista, deu aula na universidade e sustentou a família com isso. Minha avó, Branca, também fora abandonada pelo marido e não conseguia trabalhar porque ninguém dava emprego a mulher desquitada. Cresci cercado dessas histórias. Na minha casa, não existia um sistema hierárquico em torno de uma única pessoa, havia certa horizontalidade. Lembro-me de visitar amigos e voltar aliviado de ter outra formatação de família”, conta o diretor. As lembranças não são de todo dolorosas. “Eu poderia ser um cara amargo por não ter a presença do meu pai, mas não sou. Aprendi com minha mãe que é preciso ser resiliente para tirar forças do que doeu e continuar vivendo. Quando fiz um filme sobre minha avó, em 1989, entrevistei minhas tias e descobri um bom humor para falar das coisas difíceis”, recorda.

O convívio com tantas mulheres – as tias e as amigas da mãe estavam sempre por perto – fez com que seu mundo flertasse com o feminino o tempo todo, com poucas referências e interferências masculinas. Essa proximidade talvez justifique a naturalidade do diretor em retratar o âmago das mulheres em sua filmografia. Além de A Vida Invisível, coloque na conta O Céu de Sueli (2006), Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009) e O Abismo Prateado (2011). “Era adolescente e não tinha quem me ensinasse a fazer barba. Sei mais do que se falava na mesa das mulheres do que na dos homens. Achava o papo de futebol um saco (risos). A minha familiaridade com o feminino era muito maior”, relembra. “Fiz Praia do Futuro (2014) porque pensei: ‘Chegou a hora de falar sobre os homens’ ”, relata.

Ainda assim, reconhece que não poderia ocupar o lugar de fala de uma mulher na representação das primeiras gerações de feministas, como descreve o contexto de Eurídice e Guida. Por isso, virou-se para o set do longa. “Digo que é um filme antimachista, não feminista. De um lado, como autor e artista, tenho que fazer o exercício dramatúrgico de contar histórias que não são as minhas. O que me permite fazer isso é a característica do cinema de ser um projeto coletivo. Entendi que precisava ter uma mulher atrás da câmera, uma fotógrafa. Passei a me questionar até sobre coisas práticas: ‘Quem vai colocar o microfone em uma mulher que está ali de roupa íntima?’ ou ‘Como vou escrever sobre o momento em que uma mulher tem o primeiro contato com um corpo masculino se não passei por isso?’. Mais do que me questionar se tinha o direito de fazer o filme, me questionei como fazê-lo do jeito certo.”
Funcionou. Karim acredita que há no longa um encantamento que ultrapassa a tela. Já ouviu relatos de mulheres que se sentiram representadas. “No Rio, uma senhora de 80 anos me abordou para dizer que estava feliz por a filha saber da história dela. É importante quando o cinema permite falar sobre assuntos antes silenciados.” Apesar disso, não toma para si toda a importância do filme. Quando conversou com CLAUDIA, no início de dezembro, estava em Nova York, nos Estados Unidos, fazendo campanha pela vaga no Oscar na categoria de filme internacional. Não avançou na seleção, mas a temporada de palanque foi importante na defesa da cultura nacional. “Tento usar esse lugar de privilégio para relatar essa expressão do país”, diz. Também de lá soube que a Ancine havia cancelado uma exibição da obra para os funcionários sem remarcar a data. Um pouco antes disso, cartazes de filmes nacionais tinham sido retirados das paredes do órgão; e as informações das obras, do site da agência. “Fiquei perplexo. É violento e ignorante. Mas espontaneamente os funcionários marcaram uma exibição pública na Cinelândia. Temos que levar isso para o Brasil inteiro. Tem que passar Bacurau (2019) em Pernambuco. Temos que responder ao ódio com alegria. Não quero saber de onde ele vem nem como se justifica. Quero provar que somos muito mais exuberantes do que isso”, argumenta. Que assim seja.
*Fotos Bob Wolfenson

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Cozinha em L: dicas de projetos versáteis e bonitos para se inspirar
Cozinha em L: dicas de projetos versáteis e bonitos para se inspirar







