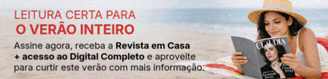Mulheres negras na curadoria de museus rejeitam visão eurocêntrica da arte
As curadoras Diane Lima e Keyna Eleison discorrem sobre a importância e os impactos do olhar racializado na construção e difusão da arte nacional

Diante de uma obra de arte, é comum questionar: “O que pretendia o artista ao criá-la?”. Mas tão intrigante e influente quanto essa pergunta é pensar nas intenções de quem escolheu o trabalho para integrar a exposição.
Por muito tempo, museus e galerias espelharam visões elitizadas, constituindo redutos da cultura brasileira com base em narrativas que excluíam o que não era interessante para quem ocupava o topo da hierarquia social.
Raras eram as ocasiões em que se propunham a abrir espaços para outras visões e, quando o faziam, apenas reforçavam estereótipos criados por uma visão eurocêntrica. Aliás, o uso do pretérito engana. A arte das instituições ainda segue fortemente influenciada por pensamentos que não refletem a pluralidade brasileira.
Alterar essa realidade depende, em parte, de mudanças realizadas de dentro para fora. Elas acontecem também graças aos esforços de mulheres como a carioca Keyna Eleison, que há três meses assumiu a direção artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), e a baiana Diane Lima, curadora independente responsável pela mostra Como Colocar Ar nas Palavras, em cartaz na Galeria Leme, em São Paulo. Não é uma jornada fácil, como contam, mas que se faz possível com assertividade, troca de conhecimentos e uma dose de sabedoria ancestral.
Considerando não apenas a montagem das exposições mas também o papel das instituições e seu contexto na arte nacional, qual o papel do curador?
Keyna Um dos meus papéis na curadoria é abrir o campo do que pode ser essa prática. A atuação curatorial ocorre não só dentro da exposição mas também sobre uma linha de pensamento a ser desenvolvida, como formas de pesquisar trabalhos de arte, de incluir nesse campo o que já chamamos de arte e o que passaremos a chamar.
Diane Estamos em um momento em que a função da curadoria é posta em xeque tanto no sentido de sua autoridade quanto no da sua pretensa ingenuidade, pois entende-se que há uma intencionalidade na função. É uma profissão que cria discursos e, portanto, noções de verdadeiro e falso, possibilidades de visibilizar ou invisibilizar pensamentos, pessoas e histórias.
Acho que a função da curadoria tem se aproximado do grande público, saindo desses bastidores, por não estar somente atrelada a produzir exposições. Existe uma ligação com projetos educativos, geração de conhecimentos, acompanhamento artístico, funções muitas vezes pouco conhecidas ou debatidas, mas que são tão importantes quanto a exposição em si.
A arte e os museus são ainda espaços muito dominados pela figura e pelo olhar masculino e branco. Qual a importância da presença de pessoas negras, especialmente de mulheres negras nos bastidores?
Keyna Quando entramos com esses olhares de presença, contundência e estudo feminilizado e racializado, colocamos o olhar branco e masculinizado como algo setorizado. A presença de curadoras e artistas não instrumentalizadas, que estão ali para algo mais do que decorar ou falar que há uma mulher preta, torna as coisas mais elucidadas, em seus lugares. Elas se inserem como agentes de desenvolvimento, de criação e participação, mas também de observação.
Diane Quando Keyna assumiu o MAM, passamos a ter a representação de uma mulher negra não apenas à frente de um museu, mas em um campo de conhecimento sendo articulado na estrutura dessa instituição. Isso muda tudo.
O que fazemos é criar perspectivas sobre um acervo que muitas vezes nos deixou de fora, colocá-lo em xeque e contrapor mundos distintos. Nossa presença é importante porque vivemos em um mundo democrático e se faz necessário compreender que a pluralidade cultural do Brasil existe; logo, devemos nos sentir pertencentes geograficamente, como povo e sociedade.
Qual tem sido o ônus e o bônus de adentrar esses espaços para levar questões, artistas e obras racializadas?
Keyna Os desafios são constantes, mas existe uma inteligência herdada das mulheres pretas, para quem isso não é algo novo. É quase o ar que respiramos, está dentro da nossa intelectualidade. É importante entendermos que o cotidiano estrutural pode ser mudado, desenvolvido por meio de microimplosões, e que estamos nesses lugares para observar e apontar questões.
Há um discurso que se constrói apenas com nossa presença. Observar acervos estabelecidos com outras perspectivas é crucial – em vez de trazer os saberes afrodiaspóricos para uma visão eurocêntrica, entender que ela, por mais importante que seja, tem limite.
Diane Penso que o desafio é existir fazendo o que fazemos. Muitas de nós, antes de sermos curadoras, éramos gestoras, educadoras, comunicólogas, antropólogas, historiadoras… Mas não curadoras, e há um motivo para isso. É uma função de poder que exige negociação para chegar até ela.

Para mim, tem sido importante a possibilidade de permanecer nesse espaço. Sabemos que curadora independente no Brasil é, muitas vezes, sinônimo de desempregada. E a maior felicidade é quando, de fato, conseguimos romper as fronteiras dos estereótipos raciais que a nossa iconografia e historiografia produziram.
Reivindicar o título de curadora pode ser um processo longo quando, por tanto tempo, o racismo criou uma exclusão desse lugar. Como vocês lidam com isso?
Keyna Falo bastante sobre isso porque, em comparação com parceiras e parceiros brancos e não brancos, me assumir como curadora foi algo tardio. Estava sempre no campo da arte e da cultura, desenvolvendo linhas de pensamento, fazendo pesquisa e até algumas exposições, mas não conseguia me sentir encaixada em nenhum desses lugares específicos. Falar que eu era curadora era um espelho que me era negado estruturalmente. Quando me nomeei, foi quase um estalo. Essa posição ainda me é muito cara.
Diane Por muito tempo, demoramos a conquistar palavras que conseguissem nos ajudar a dar nomes a violências e nos tirar do lugar de subalternidade. A curadoria também me é uma palavra cara, porque é um rótulo novo. Não acho que podemos abandonar algo que ainda está em construção, pois talvez não tenhamos experiência suficiente nessa estrutura, tempo para reconhecê-la e implodi-la por dentro.
Talvez, daqui a dez anos, voltaremos a essa pergunta e eu direi que não quero mais saber desse negócio de ser curadora. Por enquanto, deixo para as pessoas que podem fazer isso. O processo de autodefinição é importante, pois, quando nos estabelecemos no mundo, ele nos reconhece como participantes de um sistema, uma cultura, uma comunidade.
“É importante entendermos que o cotidiano estrutural pode ser mudado e que estamos nesses lugares para observar e apontar questões”
Keyna Eleison
Quando se trata de investimento, a cultura no Brasil vive na corda bamba. Com a pandemia, essa fragilidade se acentuou. A falta de verbas pode afetar a aquisição e a inserção de obras produzidas por artistas mulheres, artistas negros, minorias?
Keyna Existe uma real política de esvaziamento, na qual a aquisição e acepção estão cada vez mais elitizadas. Porém, também temos desenvolvido formas inteligentes de lidar com essa questão. Começamos a perceber outras possibilidades de criar modos e meios de observar, exibir, comprar e vender trabalhos. Não sou a pessoa mais otimista, claro. Temos que estruturar muitas questões antes de qualquer coisa.
Diane Até porque esse desmanche e precariedade, para nós, remonta a outros tempos. Essas estratégias às quais a Keyna se refere são ancestrais, vêm das nossas religiões de matriz africana e dos nossos modos de resistência e sobrevivência em diáspora, das lutas dos movimentos sociais há 50 anos. Elas estão sendo ressignificadas e revisitadas agora, de modo que possamos atravessar a pandemia. Contudo, esse processo de precarização não é exatamente novo; ele apenas se adensou.
Pensando no futuro, como esperam que as transformações que estão sendo feitas por vocês e seus colegas impactem as próximas gerações de artistas, de curadores negros e também o público?
Diane Tem uma fala do Amiri Baraka, poeta e ativista estadunidense, que diz que o passado está sempre no futuro. E o cantor Tiganá Santana completa afirmando que ancestral é aquele que se faz em vida. Acho que nossas presenças são desejos e sonhos dos nossos antepassados transformados em presente, que também já são futuro de certa forma.
Espero que estejamos conseguindo não só caminhar por esses tempos mas também afetá-los, de modo que outros tempos sejam possíveis. E que minimizemos a visão elitista que existe sobre artes visuais no Brasil. Para mim, isso não tem a ver com incapacidade de fruição, de entendimento.
Esse é um discurso nocivo. Pensando na maior democratização, espero que possamos contar nossas histórias, que não são de minorias, mas de maiorias, amplificá-las e fazer da potência que essas artes são um lugar de comunicação, pertencimento e de futuros.
Estou com câncer de mama. E agora?