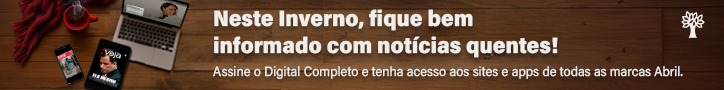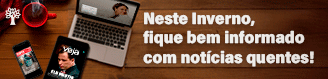Pessoas normais: uma história sobre solidão, melancolia e amor
Livro de Sally Rooney narra pequenos gestos com uma delicadeza que os amplifica

Uma garota rica, triste e solitária se encanta por um garoto pobre, atlético e popular. Ambos são alunos brilhantes, cada um é desajustado à sua maneira. Fora do enquadre escolar, a hierarquia se dá de forma cristalina: a mãe dele trabalha como faxineira na casa da mãe dela. Paradoxalmente, é no território dessa casa que os dois, Marianne e Connell, se encontram de forma um pouco mais relaxada — um espaço que permite uma espécie de amizade secreta, que acaba se transformando numa história de amor.
A partir dessa premissa simples, e com uma linguagem que parece tão simples quanto a história que narra — a de dois adolescentes de classes sociais diferentes que se apaixonam —, a escritora irlandesa Sally Rooney criou um romance sofisticado vestido de maneira prosaica. Para alguns, Pessoas Normais (Normal People, 2019, publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, com ótima tradução de Débora Landsberg) não merece o destaque que tem recebido, pois seria apenas mais do mesmo, um retrato de geração com estruturação literária simplória. Mas há quem defenda que Rooney esconde num livro que pode parecer banal um outro muito mais interessante.
Quando li Pessoas Normais, pensei foi numa frase de Virginia Woolf sobre Jane Austen, que dizia que, entre todos os grandes, Austen é a escritora mais difícil de se apreender no ato de grandeza. Enquanto há autores que chamam atenção para um trabalho poético, outros parecem escrever destituídos de grandes artifícios. O artifício de Rooney, como o de Austen, certamente está lá, mas quase não conseguimos percebê-lo. O truque ilusionista impressiona quem se empenha em decifrá-lo.

Em Pessoas Normais, os protagonistas se encontram e se desencontram de diferentes maneiras — talvez uma das mais importantes seja na linguagem. É como se o mundo interno de cada um estivesse numa condição incomunicável, melancolicamente fadado à incompreensão. Por isso, quando as palavras, em toda sua precariedade, conseguem estabelecer pontes, isso acaba sendo tão comovente.
Este é um romance que trata da impermanência do amor, quanto mais do primeiro amor, mas que também não se envergonha de valorizar a sua potência tão singela quanto transformadora, narrando pequenos gestos com uma delicadeza que os amplifica, e que também tem muitos momentos de pausa e de silêncio.
É um livro que trata dos privilégios de forma muitas vezes direta, discutindo a circulação de poder que existe numa relação entre duas pessoas, e no mundo que as cerca. A princípio, Marianne tem o poder econômico, enquanto Connell tem o poder social. Conforme se envolvem, no entanto, a equação vai se embaralhando de forma menos esquemática. Mas o próprio apaixonamento é uma condição de vulnerabilidade, e é quase sempre fisicamente que um acaba sendo arrastado para o domínio do outro. Rooney descreve essas passagens com uma precisão bonita e incômoda, muito realista.
https://br.pinterest.com/pin/719239003006750451/
A maior parte das resenhas do livro destaca o fato de que Pessoas Normais é um romance geracional, que representaria a dificuldade de relacionamentos e de manutenção de vínculos própria da geração de Marianne e Connell, talvez também da geração de Sally Rooney, que, como suas personagens, estudou na Trinity College em Dublin. Lá, Rooney entrou no curso de ciências políticas, mas acabou se formando em literatura, área em que também concluiu seu mestrado. A autora se identifica como marxista, e esse é um adjetivo que muitas vezes também aparece ligado a seus romances, embora a própria autora tenha questões com essa classificação.
Também tenho dificuldade em concordar com as duas afirmações. Para mim, Marianne e Connell são mais exceções do que representações exemplares de sua geração — Pessoas Normais conta justamente a história de um vínculo longo, que insiste em perdurar, contra todas as probabilidades. E, se é verdade que o conflito de classes está lá, não me parece que essa seja a espinha dorsal do romance. Classificá-lo como marxista talvez seja um pouco demais.

Nesse sentido, a principal crítica que consigo vislumbrar é exatamente o vínculo dos protagonistas. Num mundo em que seres humanos também são tratados de forma descartável — quer seja nas relações de trabalho, quer seja nas relações afetivas —, é raro encontrar uma história de duas pessoas que se conhecem ainda na infância, atravessam juntos boa parte da juventude, ora como namorados ou parceiros românticos, ora apenas como amigos, e chegam ao início da vida adulta se importando genuinamente um com o outro. Rooney não cedeu nem ao cinismo, nem a uma ingenuidade tola: relações acabam, mas o afeto pode permanecer. Marianne e Connell encontraram um no outro abrigo contra o desamparo, contra a desimportância e contra o descarte.
E se o livro reconstrói esteticamente o efeito do primeiro amor, o que por si é impressionante, a série Normal People (2020), inspirada no romance, também é muito feliz nessa empreitada (curiosidade: a autora participou da adaptação e está creditada no roteiro). A escolha de Daisy Edgar-Jones e de Paul Mescal para interpretar a dupla de protagonistas é impecável, eles estão excelentes. E a trilha sonora certamente contribui para construir a atmosfera da história que está sendo contada.
Há quem diga que série e livro pesam a mão na melancolia. Penso o contrário: Marianne e Connell encontram juntos uma porta de saída do quadro melancólico e autodestrutivo em que estavam aprisionados, e passam a sonhar com outras realidades, incluindo a de, quem sabe, seguir caminhos autônomos. Em Pessoas Normais, os protagonistas se machucam e se confundem, mas também se encontram de forma tão profunda que o afeto torna possível que passem a se distinguir.
Como escreveu Clarice Lispector: “ninguém estará perdido se der amar e às vezes receber amor em troca”.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO