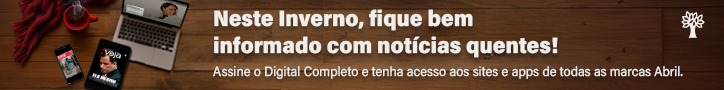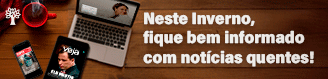It’s only rock n’ roll but I like it
Companheiro de toda a vida, o bom e velho rock'n'roll é a casa para onde a escritora Juliana Borges sempre volta

São Paulo, 19 de maio de 2020
Eu sei, é só rock. Mas fazer o quê, se eu gosto tanto? Acho que já devo ter passado por fase de amor intenso pelas mais variadas formas derivadas do rock. Clássico, hard rock, heavy metal, glam, indie, progressivo, punk, grunge, não importa. Dá pra contar a vida a partir das derivações, das fases e o que elas mais queriam dizer. Hoje, é apenas a salada na minha playlist do spotify, que começa com Deep Purple e termina com The White Stripes.
Aos 3 anos, eu era embalada por Close to Me, do The Cure. Lá pelos 5 anos, eu já estava apaixonada por David Bowie e Queen. Pelos 7, 8 anos, eu era alucinada por Guns N’Roses e Skid Row – Sebastian Bach era o meu tipo, se é que uma menina de 8 anos sabe o que é tipo preferido e eu acho que se tratava mais de uma imitação de uma das minhas tias que o amava. Mas o amor acabou com uma entrevista dele em 1991 para a MTV, em que ele mais arrotava do que falava. Um dos passatempos perfeitos era dançar no quarto, com minha mãe e tias, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs. Inclusive, um dos meus momentos auge aconteceu no ano passado, quando conheci e tirei foto com Paulo Miklos. Um momento magistral, até porque fazia pouco que eu havia perdido minha mãe e aquela foto tinha uma pitada de oferecimento especial para ela.
Com 10 anos, eu me jogava no grunge. Acho que até os 13 anos, eu só andava de calça jeans suja, camiseta, uma camisa xadrez e um all star, esses dois últimos tão sujos quanto a calça jeans. O acústico da MTV do Nirvana é das coisas que eu acho mais maravilhosas da música até hoje e eu chorei copiosamente quando Kurt Cobain se foi. Nessa fase do despertar dos primeiros amorzinhos, eu trocava traduções de Guns N’ Roses e Pearl Jam com um garotinho – alô, Ricardinho! E que nome você foi ter, hein amado? E também, confusamente e tudo misturado, fui parte de um fã clube do Silverchair com minhas amigas – e também gritávamos com cada sorriso do Jon Bon Jovi na tela da MTV.
Mas foi lá pelos 15 anos que eu comecei a apreciar o tal classic rock, em uma viagem transcendental com uma amiga, no intervalo do colégio, na sala do grêmio, ao som de Kashmir do Led Zeppelin – e eu juro que não havia nenhuma substância alucinógena acompanhando a experiência. Depois daqueles pouco mais de 8 minutos, eu fiquei os próximos 13, 14 dias escutando tudo que encontrava e podia sobre Led Zeppelin. E dali foi um pulo para Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Velvet Underground e… Bob Dylan. Nesse último, eu devo ter me perdido por longos meses e cheguei a sofrer certa bronca de umas amigas, porque eu havia conseguido um CD de Highway 61 Revisited e escutava e cantarolava Like a Rolling Stone, que abre o disco o dia todo, inclusive no meio das conversas adolescentes. Eu ia para longe com aquele som. Como queria ainda ter esse CD… No meio para o final disso, teve Oasis, Radiohead e Blur.
Com uns 17, eu conheci o rock industrial a partir das experiências de David Bowie com essa vertente e mergulhei em Nine Inch Nails. E lembrar disso tem seu tom engraçado porque, nesse período, eu devo ter sido uma jovem bem sombria, já que de NIN eu saltei para Marilyn Manson e escutava The Beautiful People tão alto, que não sei até hoje como minha avó não falava nada. Unhas pintadas de preto, lápis delineado no olho… preto. Meia arrastão, camiseta… preta. E eu amava aquela mensagem que questionava padrões, a identidade com uma adolescência com experiências nada agradáveis de bullying, porque ser uma garota negra e gorda, digamos, não faz você passar incólume dos altos, magros e loiros da escola.
Um certo hiato inexplicável aconteceu e eu dei um giro de 180 graus e fiquei por alguns anos mais pop, o que pode ser papo para outro dia. Mas eu, ainda sim, conseguia equilibrar Nine Inch Nails, que sempre fazia meu coração pular, e um “Hit me, baby, one more time” ou um “Backstreet is back, all right!”. Minha mãe não entendia nada. Acho que nem eu.
Um pouco antes de entrar na faculdade – eu não prestei vestibular aos 17, porque repeti um ano e porque preferi fazer ensino técnico e depois cursinho, até me decidir pelo que queria realmente – lá pelos 20, 21, eu me animava com o punk de Ramones, The Clash e, obviamente, cantar God Save the Queen, do Sex Pistols, ao passo que descobria o anarquismo. Pouco depois, descobri que o anarquismo não era para mim, exatamente, apesar de gostar de muitos pensadores e de muitas características.
Na faculdade, houve um certo, e breve, encanto pelo heavy metal, com Iron Maiden, Manowar – esse último, mais por influência de um grande amigo, já que íamos almoçar depois das aulas e ficavámos “bangueando” no carro, enquanto esperávamos a digestão para voltar à biblioteca. Mas ali, meu mergulho mesmo foi em um retorno a Red Hot Chilli Pepers, perdido em alguma lembrança dos anos 90, e na descoberta de The Strokes, Arctic Monkeys e Franz Ferdinand. Esses últimos, inclusive, que eu perdi a chance de conhecer em uma baladinha paulistana de indie rock, que eu amava muito, porque preferi uma outra festinha universitária e, no dia seguinte, acordei com várias mensagens perdidas de uma amiga me dizendo que eles foram curtir por lá – saudades Funhouse, onde vi um dos melhores shows cover de Joy Division da minha vida. Também odiei o emo, como todo amante de rock no início do século. Mas depois entendi que era uma vertente e vida que segue – mas sigo odiando, com todo o respeito a quem gosta.
E, durante tudo isso, teve The Rolling Stones, grafados na minha mini-bio da revista, porque eles são atemporais, sem-fase-sendo-de-todas-as-fases da minha vida. Desde a primeira vez que escutei Satisfaction, o amor foi arrebatador. Eu podia estar o mais grunge possível, entre uma música e outra, eu escutava um bocadinho dos britânicos que mais amo. Não importava se totalmente industrial, eu precisava daquela dose de Brown Sugar, Bitch, Love in Vain, Miss You e por aí vai, até minha música preferida dos caras You Can’t Always Get What You Want – que escuto quase todos os dias de minha vida e deixarei registrado que a quero em meu enterro.
Primeiro, acho o som dos caras inconfundível e admiro muito o apreço que eles tem aos que os fizeram amar o rock e resolver ser mais do que músicos, mas viver o mundo com outro comportamento, que é a proposta do rock (pelo menos, já foi). Através de Keith Richards que conheci Chuck Berry e todo um mundo de influências negras e de desejo por pesquisar o que está por trás dos visionários e vanguardistas da música, que acabam apagados e esquecidos. Assim como foi através de Bob Dylan que eu conheci a responsável por termos rock hoje: Sister Rosetta Tharpe.
Bem, se você não conhece Sister Rosetta e diz que gosta de rock, algo está muito errado. A gospel, nascida em 1915, no Arkansas (EUA) mudou o curso dos ventos da música. Elvis Presley corria para escutá-la no rádio, BB King e Chuck Berry assumiram amor por sua guitarra e Bob Dylan a chamou de “esplêndida” pela sua capacidade de articular gospel com ritmos mais seculares. Claro que tinha os que não gostavam disso, mas nada parou Sister Rosetta que, em 1938, foi a primeira cantora gospel a assinar contrato com uma grande gravadora, a Decca Records.
O rock pode ter perdido seu caráter de movimento, por propor uma outra forma de comportamento e se apresentar ao mundo, mas eu acho que é só circunstância. Há os que falam que ficou um tanto careta, mas acho que caretice sempre teve. Mas o que marcou mesmo foi a atitude altamente subversiva daqueles que popularizam o ritmo pelo mundo. Pela sua capacidade de inovação e criação, já já aparece alguém propondo algo que pode trazer polêmica, mas também botar tudo abaixo com uma boa guitarra.
Ao fim e a cabo, todo dia é dia de rock, bebê. E eu posso passar por minhas fases mais blue, um pouco populares e brasileiras, em consciência potencializada pelo reggae, mas eu sempre acabo correndo para os braços do bom e velho rock’n’roll. A gente sempre volta pra casa, né?


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO